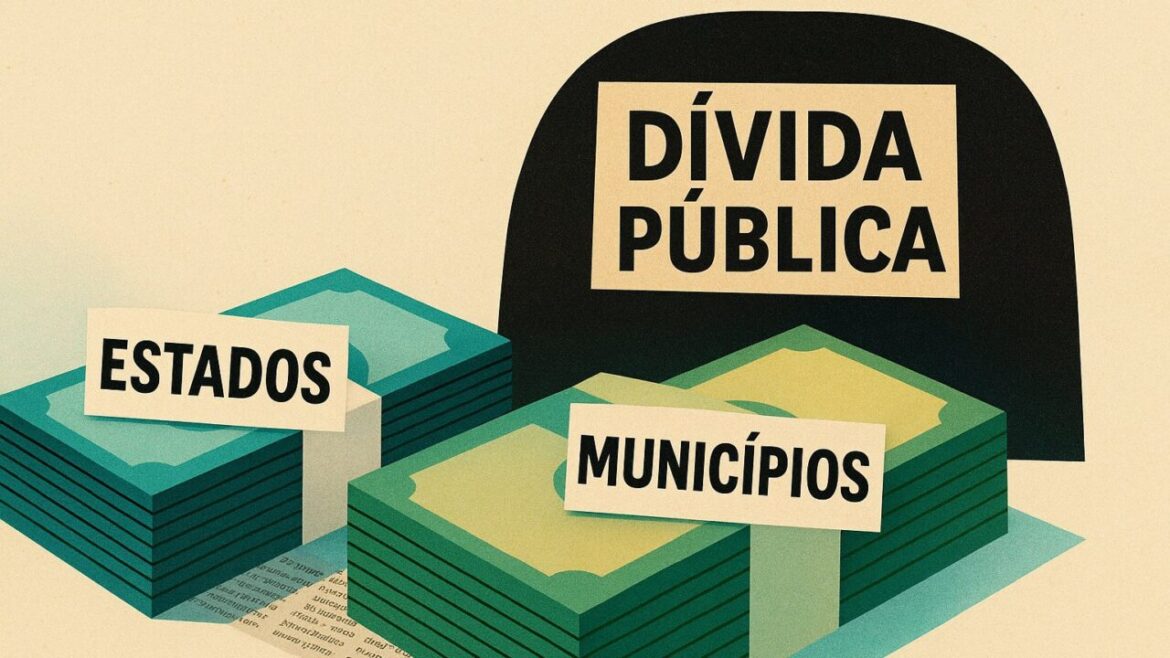A dívida pública brasileira tem apresentado um crescimento alarmante nos últimos anos, com projeções que indicam uma trajetória preocupante para os próximos. Em maio, o endividamento alcançou 76,1% do Produto Interno Bruto (PIB), e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que esse percentual pode chegar a 99,4% até 2029. Embora decisões federais, como reajustes do salário mínimo e a nova regra fiscal, contribuam para esse cenário, estudos recentes revelam que estados e municípios desempenham um papel significativo no impulsionamento dessa alta, repassando os custos da expansão fiscal para a União.
Mecanismos de Expansão Fiscal Subnacional e Seus Efeitos
O economista Marcos Mendes, pesquisador associado do Insper, em seu estudo para o Instituto Millenium, detalha quatro mecanismos principais que têm ampliado as despesas de estados e municípios, impactando diretamente a dívida pública federal. Primeiramente, o aumento nas receitas e despesas do orçamento federal com os entes subnacionais, incluindo as emendas parlamentares, tem sido um fator relevante. Em segundo lugar, a redução no pagamento de dívidas dos estados com a União contribui para o desequilíbrio. A inadimplência de dívidas garantidas pela União, sem a devida execução das contragarantias, é o terceiro mecanismo. Por fim, a ampliação das autorizações para operações de crédito estaduais e municipais completa o quadro.
Entre 2015 e 2024, esses fatores resultaram em um aumento de 4,1 pontos percentuais do PIB nos gastos de estados e municípios. Esse avanço tem sido facilitado pelo apoio do Congresso Nacional, que, sensível aos interesses regionais, e do Supremo Tribunal Federal (STF), cujas decisões frequentemente favorecem os entes subnacionais em detrimento da União, contribuem para a pressão sobre as contas federais. É importante ressaltar que, embora o governo federal também tenha sua parcela de responsabilidade, o crescimento do PIB em cerca de 3% ao ano não tem sido suficiente para conter o desequilíbrio fiscal, evidenciando que a dívida está crescendo a um ritmo mais acelerado do que a capacidade de pagamento do país.
Descentralização Fiscal Silenciosa e o Descompasso nos Gastos
Manoel Pires, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), cunhou o termo “descentralização fiscal silenciosa” para descrever o fenômeno em que os ajustes realizados pelo governo federal desde 2024 não são acompanhados por estados e municípios. Esse descompasso dificulta a coordenação econômica, social e política do país. Os números são claros: entre 2019 e 2024, os gastos primários do governo federal cresceram 5% em termos reais, passando de R$ 484 bilhões para R$ 508,2 bilhões. No mesmo período, os gastos de estados e municípios subiram 26,4%, um aumento cinco vezes maior, saltando de R$ 510,3 bilhões para R$ 645 bilhões.
Grande parte desse crescimento nos orçamentos locais é impulsionada pelas transferências obrigatórias da União. Marcos Mendes aponta que a média anual das transferências, que era de 5,4% do PIB entre 2010 e 2019, atingiu 6,6% em 2024, sem que isso resultasse em uma piora do resultado fiscal dos subnacionais. Esse aumento está diretamente ligado a mudanças legislativas promovidas pelo Congresso, como a ampliação dos repasses via Fundo de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM), além do crescimento das transferências por meio do Fundeb, que teve sua contribuição da União aumentada gradualmente de 10% para 23% até 2026.
Renegociação de Dívidas e o Risco de Inadimplência
Outro fator que contribui para a pressão sobre a dívida pública é a renegociação constante das dívidas dos estados. Desde o governo Dilma Rousseff, presidentes têm cedido a pressões políticas para aliviar os encargos estaduais. Além disso, a União atua como garantidora de empréstimos junto a organismos internacionais, e a inadimplência de estados tem aumentado desde 2017, mesmo com a previsão de contragarantias. A Lei Complementar 212, aprovada em 2025, que reduziu juros, ampliou prazos e permitiu o uso de bens para quitação de dívidas, tem gerado sobreavaliações e judicializações, sem exigir ajustes fiscais efetivos dos beneficiários. Como consequência, entre 1998 e 2015, estados e a Prefeitura de São Paulo pagavam, em média, 0,6% do PIB ao ano à União em juros e amortizações, valor que caiu para 0,23% entre 2016 e 2024.
O modelo de endividamento atual é pró-cíclico, o que significa que a capacidade de endividamento aumenta quando a receita cresce, mas os contratos anteriores permanecem nos momentos de queda, elevando o risco de calote. Mendes alerta que, caso o Executivo se mostre complacente com o desequilíbrio fiscal, a situação pode se agravar com mais autorizações de crédito. Em 2013, as contratações chegaram a 3,5% do PIB, e em 2024, superaram o patamar de 2,5% do PIB, evidenciando uma tendência de alta.
Tendência Estrutural e o Risco de Crise
O estudo de Mendes demonstra que a alta dos gastos de estados e municípios não é um fenômeno pontual, como ocorreu durante a pandemia, quando o governo federal repassou recursos a fundo perdido e congelou salários, gerando acúmulo de caixa para os entes subnacionais. A tendência é de manutenção de um padrão elevado de despesas. O risco de a dívida pública atingir um ponto insustentável é real, embora o limite exato seja incerto e dependa da credibilidade do governo e de suas promessas de ajustes nas contas.
Quando a confiança se esgota, a dívida pode ser corroída pelo aumento da inflação, ou o governo pode buscar meios de desvalorizá-la, como ocorreu no congelamento de ativos financeiros no Plano Collor. Se não houver uma reversão no crescimento da dívida pública, o país pode enfrentar uma nova crise, semelhante à de 2014-2016, com falências, inflação e queda do potencial de crescimento. Uma grande recessão resulta em perda de capital que demora a ser recomposta, prejudicando o crescimento de médio e longo prazo do país. A urgência de uma gestão fiscal responsável e coordenada entre todos os níveis de governo é crucial para evitar um cenário de instabilidade econômica e social.